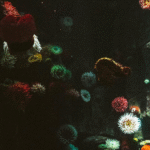A imagem de Ophelia, imóvel e submersa entre flores, ainda circula como um ícone de beleza e tragédia. É um retrato que não nasceu para nos confortar, mas que foi domesticado para isso. Pintores, escritores e cineastas transformaram uma morte em um quadro decorativo, um colapso em espetáculo. A “loucura feminina” ganhou moldura, paleta suave e função ornamental. Não importa que por trás daquela cena exista violência, abandono e desespero, o que sobrevive é o enfeite.
Ofélia é uma personagem da tragédia Hamlet, de William Shakespeare, escrita por volta de 1600.
Na peça, ela é uma jovem nobre dinamarquesa, filha de Polônio e irmã de Laertes, que mantém um relacionamento amoroso com o príncipe Hamlet.

Sua trajetória é marcada por uma série de pressões e manipulações externas: o pai a usa como peça em um jogo político para vigiar Hamlet, o irmão a adverte sobre manter a “pureza” e Hamlet, em crise, a repele de forma cruel. Ao longo da trama, Ofélia perde o pai — morto por Hamlet — e vê seu vínculo com o príncipe ruir. Sob o peso desses eventos e de uma corte que a trata mais como instrumento do que como pessoa, ela entra em colapso mental.
Na cena mais icônica associada à personagem, Ofélia é descrita por outra personagem como tendo se afogado num rio, cercada por flores que colhia momentos antes. O texto sugere um suicídio, embora alguns interpretem a morte como acidental. Essa imagem — a jovem bela e frágil, flutuando passivamente na água — tornou-se um símbolo cultural daquilo que se convencionou chamar “loucura feminina” no imaginário ocidental.
Ao longo dos séculos XIX e XX, especialmente no movimento pré-rafaelita, essa morte foi amplamente retratada em pinturas que enfatizavam a estética etérea e poética da cena, esvaziando seu conteúdo trágico e político. Assim, Ofélia deixou de ser vista como vítima de pressões sociais e passou a ser consumida como ícone visual da fragilidade romântica, e reforçando que o maior motivo para que uma mulher sofra, é o romance.
Hoje, as aquarelas vitorianas foram substituídas pelo feed das redes sociais. No lugar da Ophelia submersa, temos vídeos filtrados e memes com frases de autoironia, hashtags que tratam da própria instabilidade como um traço charmoso, slogans de “girlfailure” como se admitir a queda fosse, por si só, resistência. É sedutor acreditar que rir da própria ruína seja um ato emancipador, mas na maior parte das vezes essa é só mais uma forma de transformar a dor em produto. É a mesma operação de sempre: tirar da “loucura feminina” qualquer conteúdo político e vendê-la como estética.
Existe uma indústria inteira interessada em domesticar o sofrimento. A mulher que quebra não pode gritar, precisa tombar com delicadeza, precisa sangrar bonito, precisa ser fotografável. Se a dor não for agradável aos olhos, não será consumida. Se não for possível transformá-la em meme, ela não serve. É nesse ponto que a narrativa deixa de ser apenas enganosa e se torna perigosa, porque o público aprende a desejar o colapso contanto que ele seja bem editado.
Só que essa “loucura instagramável” também tem raça e idade. A versão que vende é jovem, branca, magra, enquadrada na estética indie ou clean girl. O mesmo colapso, se vier de uma mulher negra ou de uma mulher mais velha, não recebe moldura romântica: vira fetiche ou acusação. Mulheres negras em sofrimento não são retratadas como musas trágicas, mas como espetáculo exótico, material para reforçar estereótipos racistas, prova viva do mito da força ou do corpo excessivo. A lágrima branca é poesia; a lágrima negra é consumida como violência simbólica ou como pornografia da dor. E o etarismo intensifica o descarte: mulheres que já não se encaixam no ideal jovem são tratadas como inconvenientes, como se não tivessem mais direito a quebrar sem serem culpadas por isso.

Na vida real, a conta chega rápido. A sociedade que compartilha memes sobre “ansiedade fofa” é a mesma que exclui a mulher instável da lista de promoções, que questiona a credibilidade de quem admite estar em tratamento, que associa a “loucura feminina” à incapacidade de liderar ou decidir. É um pacto hipócrita: enquanto o sofrimento rende cliques e engajamento, ele é celebrado; quando se torna inconveniente, ele é descartado.
A romantização da “loucura feminina” não é um fenômeno novo, é uma herança direta de séculos de patologização seletiva. Mulheres brancas puderam ser retratadas como musas trágicas, frágeis, inspiradoras; mulheres negras, ao contrário, foram sistematicamente desumanizadas, tachadas de irracionais, histéricas, violentas, sem qualquer espaço para que seu sofrimento fosse visto como beleza. Essa é a raiz colonial da estética atual, que mantém intacto o privilégio de quem pode se quebrar e ainda ser considerada interessante.
A estética da ruína vendável esvazia qualquer possibilidade de denúncia. Quando a dor é tratada como adereço, ela deixa de ser evidência. Quando o colapso é transformado em marca pessoal, a estrutura que o provocou fica fora de cena. É por isso que esse discurso parece tão inofensivo: porque ele protege exatamente aquilo que deveria expor.
Nossa sociedade vê a tristeza, que é frequentemente associada à fraqueza ou vista como algo a ser superado ou evitado. Precisamos arrancar a moldura, mostrar a água turva onde Ophelia afundou, falar sobre o peso que arrasta mulheres para esse fundo e não sobre as flores que flutuam ao redor. Recusar que a “loucura feminina”, nossa histeria, destempero, descontrole, sejam um entretenimento e afirmar, sem cuidado para ser agradável, que não há nada poético em ser esmagada. Lembrar ainda que, para muitas de nós, a loucura não é performance, é a resposta para aquilo que se vive.