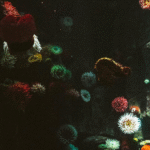Eu sei, passou de 2 linhas ninguém lê:
Há séculos, mulheres negras carregam sobre seus corpos uma caricatura que atravessa fronteiras e gerações. A figura da mulher negra raivosa, uma imagem construída para controlar e silenciar, mas que se infiltrou de tal maneira no imaginário social que sobrevive mesmo quando deslocada de seus contextos originais. Se engana quem pensa que ela se limita às telas, aos corredores das corporações ou às manchetes de jornais e dados de inúmeros estudos sobre violência institucional. Ela está também nas nossas casas, nos relacionamentos íntimos, nos diálogos familiares, amizades e até mesmo no olhar de nós negros diante de nossas mães e companheiras. A insistência desse estereótipo revela uma engrenagem cruel e massacrante, este estereótipo não apenas regula como mulheres negras podem existir publicamente, mas também mina a possibilidade de que sejam reconhecidas como dignas de afeto, cuidado e vulnerabilidade.
A gênese desse imaginário remonta ao período da escravidão, quando era necessário justificar a exploração incessante do corpo da mulher negra. Para naturalizar o trabalho forçado, o abuso sexual e a negação de dignidade, criaram-se arquétipos. A “mammy” foi a figura da servidora fiel, assexuada e dedicada às famílias brancas. A “jezebel” simbolizava a mulher hipersexualizada, sempre disponível, sensual e “impura”. Já a “sapphire”, que ganharia força no século XX, encarnava a mulher agressiva, verbalmente abusiva, incontrolável. Essa última firmou a ideia de que mulheres negras, ao expressarem indignação, não estavam reagindo a injustiças, mas apenas revelando uma essência animalesca. O estereótipo cumpria a função de neutralizar qualquer possibilidade de resistência: uma mulher classificada como raivosa desde o princípio não tem o direito de se insurgir.
Com o tempo, a caricatura se adaptou às transformações sociais. Nos anos 1950, a personagem Sapphire, de Amos ’n’ Andy, consolidou essa imagem para milhões de espectadores, retratando a mulher negra como esposa irritada e exaltada, sempre pronta a humilhar e controlar o marido. A ficção serviu de entretenimento, mas a sua consequência foi a formação de um imaginário que passaria a atravessar a vida de mulheres negras em todos os espaços. Décadas depois, Michelle Obama seria descrita como “angry” em colunas de opinião simplesmente por discursar em defesa de direitos sociais. Serena Williams, ao questionar árbitros em competições, foi caricaturada em charges racistas que a apresentavam como selvagem e descontrolada. Em ambos os casos, a mensagem era a mesma: mulheres negras não podem expressar indignação legítima sem que isso seja convertido em prova de sua suposta irracionalidade.

Pensando em Brasil, assim como com tantas outras coisas inúteis, importamos o formato de entretenimento e ainda conseguimos ampliá-lo para versões ainda mais bestializadas destas mulheres.
O ponto desesperador é que esse mecanismo não se restringe ao olhar branco. A lógica da desumanização é tão profunda que foi internalizada e perpetuada dentro das próprias comunidades negras. Homens negros, eles próprios vítimas de estereótipos raciais, reproduzem a ideia de que suas companheiras, mães e filhas são naturalmente “difíceis”, “duras”, “excessivas”. A imagem da mulher negra raivosa torna-se um argumento para desqualificar demandas afetivas ou críticas legítimas dentro de relacionamentos afrocentrados e monoraciais. A suposta “força” das mulheres negras é frequentemente evocada para justificar ausência de cuidado: elas aguentariam sozinhas, suportariam tudo. Nesse processo, o afeto é retirado não apenas pelo olhar externo, mas também pelo olhar íntimo, que deveria ser espaço de proteção.

Também é utilizado por mulheres pardas para deslegitimar vivencias que as mesmas não possuem. Muitas vezes se relacionando com mulheres de pele escura como se houvesse a necessidade de se proteger ou aniquilar a suposta ameaça que estas mulheres podem ser. Um delírio compartilhado.
É nesse ponto que se revela a dimensão mais cruel do estereótipo. Ele não se limita a negar a legitimidade da raiva. Ele retira de mulheres negras o direito de serem vistas como frágeis, como sujeitos que merecem proteção e carinho. A raiva atribuída a elas é uma máscara que encobre a dor. Quando uma mulher negra reclama de injustiça no ambiente de trabalho, é rotulada de agressiva e ELIMINADA. Quando exige respeito em um relacionamento, é acusada de ser insuportável e ELIMINADA. Quando cobra responsabilidade de seus filhos, é chamada de opressora e é ELIMINADA. A raiva, em vez de ser reconhecida como emoção legítima, é usada para negar sua humanidade. O resultado é um isolamento afetivo profundo.
As vezes não é necessário sequer estar com raiva. Basta qualquer tipo de posicionamento para se tornar bicho ao invés de gente.
A animalização, presente desde a escravidão, permanece implícito a esse processo. Mulheres negras foram vistas como corpos resistentes à dor, como se fossem biologicamente mais fortes, menos sensíveis. Essa crença pseudo-científica atravessou séculos e ainda hoje influencia o modo como médicos e enfermeiras lidam com pacientes negras. Estudos mostram que queixas de dor de mulheres negras são frequentemente desvalorizadas, levando a diagnósticos tardios e maior mortalidade materna. O corpo negro feminino é lido como máquina de resistência, incapaz de fragilidade. Essa mesma lógica se repete no campo emocional: se são fortes, não precisam de apoio. Se são raivosas, não merecem compreensão.
As consequências são devastadoras. Mulheres negras internalizam o estereótipo e passam a vigiar suas próprias emoções, evitando expressar frustração para não confirmar expectativas externas. Esse controle emocional contínuo gera estresse crônico, ansiedade e depressão. Ao mesmo tempo, a necessidade de manter a imagem de força, associada ao arquétipo da “Strong Black Woman”, reforça o ciclo de sobrecarga. Muitas carregam famílias inteiras sem poder reclamar. A raiva reprimida torna-se dor silenciosa, transformada em doenças físicas e psíquicas. A impossibilidade de pedir ajuda é vista como virtude, quando na verdade é produto da opressão.
Dentro da comunidade negra, esse fardo ganha outra camada. Ao mesmo tempo em que somos celebradas como colunas de sustentação, somos duramente criticadas por qualquer gesto.
Parte da comunidade negra está focada na construção de afetos, em repensar o amor, em construir espaços sensíveis e seguros para as nossas subjetividades. Reivindicamos amar a partir das nossas experiências de mundo, que não se encaixam na construção cristã e subverte a logica da posse.
O corpo negro sempre esteve disponível para o sexo, para o abuso, para o servir, inclusive afetivo-sexual. A não monogamia para o corpo negro não deveria ser sobre números ou sobre possibilidades sexuais. Quando se fala da mulher negra, em que momento da história das Américas, estas mulheres foram consideradas esposas ideais, foram consideradas (ainda que posse) humanas o suficiente para serem honradas publicamente? A propriedade para ser protegida para a garantia de que os filhos com esta mulher fossem legítimos para receberem uma herança. HERANÇA…
Mas considerando tudo aquilo que nos foi negado como população negra, o que estamos tentando construir?A quem pertencerá este afeto? Como podemos construir liberdade se existem condições para exercê-la, e estas condições são construídas tendo uma visão branca como perspectiva? Uma visão escravagista. Como pensar uma não monogamia negra que se firma apenas em praticas sexuais desconsiderando amizade, comunidade, construção coletiva?
Como podemos impedir que a violência que tanto denunciamos vinda de quem é branco se infiltre pelas rachaduras das nossas contradições e se torne mais brutal e mortal do que o que está no campo externo?
Precisamos como comunidade preta aprender a reconhecer as construções sociais as quais somos submetidos, entender que é preciso estar em revisão constante para construção da liberdade que pretendemos e também nos entendermos como sujeitos capazes de reproduzir violência entre os nossos.
Como mulheres negras, pretas e pardas, precisamos subverter o lugar da competição, a necessidade de subjugar umas as outras usando inclusive o tom de nossas peles ou a cisgenereidade para aniquilar as demais. numa competição irracional alimentada por homens, sejam eles brancos ou negros. E nisso nem o amor, nem a liberdade nos alcançam.
As ferramentas do mestre nunca vão desmantelar a casa-grande — estejamos atentas.